
Uma das crenças mais populares do ecologismo afirma que “populações tradicionais” criam e mantêm biodiversidade. Esta afirmação, formulada de diferentes formas, tem aparecido com freqüência em artigos sócio-ambientalistas e das chamadas ciências sociais.
Esta hipótese, que para alguns se tornou dogma, é em geral associada a conflitos entre unidades de conservação que não contemplam a presença de humanos caçando, plantando ou extraindo outros recursos naturais, como parques nacionais, e populações que ocupam estas áreas. Seu corolário é de que as práticas das populações tradicionais são importantes na “conservação da biodiversidade”. A retirada do homem destas áreas significaria uma perda em termos de biodiversidade e de saber “acumulado por várias gerações sobre plantas, animais e técnicas de manejo”. Ou seja, é um argumento para que ocupantes de áreas protegidas sejam deixados onde estão, fazendo o que sempre fizeram.
A retórica dos criacionistas tenta dar roupagem científica às suas crendices (“desenho inteligente”) e um sem-número de ativismos políticos também procura justificativas “científicas” para seus credos. Seguindo as pegadas destes antecessores, é exatamente o que ocorre no caso das supostas benesses biodiversas oferecidas pelas populações tradicionais. Trata-se de retórica com camuflagem científica.
Simples na sua formulação, a hipótese deve ser examinada em seus detalhes. O primeiro é exatamente o que significa “populações tradicionais”. O termo foi tão abusado para incluir grupos heterogêneos como índios (estes com uma gama que vai de grupos aculturados aos não-contatados), quilombolas, caiçaras, gerazeiros, seringueiros, ribeirinhos, açorianos, pomeranos etc que o termo parece ser sinônimo de populações rurais pobres. Seria piada se não fosse levado a sério por muitos.
Também é surpreendente que a crença no papel benigno de populações tradicionais exista apesar do corpo de evidência arqueológica e histórica que mostra padrões de uso insustentável de recursos que vão de esturjões na Califórnia pré-colombiana a avelãs na Escócia neolítica, além de maranhões (flamingos) no Maranhão e mutuns nas reservas extrativistas acreanas do século XX.
O Fator Humano
Se humanos que hoje seriam considerados populações tradicionais não tivessem colonizado as Américas, Colombo teria encontrado as Antilhas povoadas por preguiças terrícolas e De Soto e Cabral teriam sido recepcionados por mastodontes e tigres-dentes-de-sabre. Mamutes ainda poderiam vagar na Sibéria se humanos não tivessem chegado lá. Madagascar poderia ser coberta por florestas habitadas por aves-elefante e lêmures-gigantes se navegadores da Indonésia não tivessem colonizado a ilha. O mundo teria 2 mil espécies de aves a mais se os polinésios não tivessem colonizado o Pacífico. Os exemplos cobrem o planeta.
Um legado daquelas “populações tradicionais” é que nunca veremos estas espécies a não ser em reconstruções feitas a partir de seus ossos. Humanos não começaram a destruir a natureza após a Revolução Industrial e a ascensão do capitalismo, como querem alguns mal informados. Começamos a tornar este planeta mais pobre quando nos tornamos humanos.
A hipótese do papel gerador/mantenedor de biodiversidade, além de se chocar com as evidências históricas, tem nuances que precisam ser explicitadas. Sobre qual biodiversidade se está falando? Da mesma forma que “populações tradicionais” se tornou um guarda-chuva sob o qual quase qualquer grupo pode se abrigar, o significado do termo biodiversidade tem sido usado em um sentido que talvez seja amplo demais.
“Povos tradicionais” têm um histórico impressionante de domesticação de plantas e animais que gerou o que são, efetivamente, novas espécies. Nas Américas, povos pré-colombianos criaram a abóbora, o milho, a batata, a mandioca, o feijão, a pupunha sem espinho, a quinua, a alpaca, a lhama, a cobaia e o cão pelado peruano. Todos são resultado de seleção artificial feita ao longo de milhares de anos, e tremendamente diferentes de seus ancestrais selvagens.
É claro que este processo de “criação de biodiversidade” não é exclusivo dos povos tradicionais, mas foi continuado e aprimorado por todas as civilizações complexas. Afinal, a gênese das mesmas está ligada à agricultura e pecuária mais produtivas e seus excedentes. Não é esta a parcela da biodiversidade que necessita ser mantida em unidades de conservação.
Faz tanto sentido defender que “populações tradicionais” continuem a trocar habitats naturais por plantios para “conservar a biodiversidade” como defender que a Monsanto faça o mesmo para desenvolver novas variedades de grãos. Afinal, a agroindústria moderna, literalmente, também cria biodiversidade. E de forma mais rápida que a agropecuária tradicional.
Espécies de plantas e animais domesticados hoje ocupam a maior parte das terras férteis do planeta (ao contrário de ecossistemas naturais) e aquelas variedades que correm o risco de desaparecer por terem perdido o interesse de produtores, incluindo grupos indígenas, são melhor conservadas em instituições como a Embrapa e similares.
Outro componente da biodiversidade que pode ser gerado por populações tradicionais é exemplificado pela origem do HIV-1, por sinal um excelente exemplo de evolução darwiniana. No final do século XIX ou início do século XX, um habitante das florestas do Congo matou um chimpanzé portador do vírus SIVcpz para o jantar. Isso permitiu que o SIVcpz colonizasse um novo hospedeiro (Homo sapiens) e evoluísse rapidamente, se transformando no HIV-1 (efetivamente uma nova “espécie”). Este se tornou conhecido quando a epidemia de AIDS explodiu na década de 1980. Seu irmão, o HIV-2, descende do SIVsmm, originalmente um hospedeiro inócuo dos macacos mangabeys do oeste africano, surgiu de forma similar.
Novas contribuições deste tipo à biodiversidade deverão ser feitas conforme aumenta o número de pessoas ocupando (e detonando) áreas naturais. Nada de novo sob o sol, já que muitos patógenos novos evoluíram a partir de ancestrais adquiridos de animais domésticos (como a varíola) ou silvestres, e os hospitais modernos também têm produzido novos patógenos que podem ser considerados artefatos humanos.
Multiplicando habitats
Biodiversidade também tem sido igualada de forma simplista a número de espécies. Em geral, quanto maior a variedade de habitats existente em uma determinada área, maior a riqueza de espécies. Este conceito é importante para compreender a hipótese da biodiversidade gerada por populações tradicionais.
Imagine uma área de floresta. Temos um habitat. Se nesta área colocamos uma plantação de mandioca, temos dois habitats. Se adicionarmos uma pastagem, temos três. Se o plantio é feito através do sistema de corte e pousio de quatro anos (comum em várias regiões), temos um mosaico de floresta, capoeiras de quatro diferentes idades, áreas agrícolas ativas e pastagens. Onde havia um único habitat natural, agora temos sete!
As áreas agrícolas e pastagens têm suas espécies domesticadas e suas espécies associadas. Por exemplo, bois permitirão o estabelecimento de insetos (moscas de chifre, bernes, rola-bostas etc) que não existiam na floresta. As áreas abertas nas bordas das roças permitirão que plantas e animais de áreas abertas e detonadas, que antes não existiam na floresta intacta, também se estabeleçam. É graças a este “aumento na diversidade de habitats” que bichos bonitinhos, mas ordinários, vindos de outras regiões, como tizius e pardais, estão colonizando a Amazônia na trilha das rodovias e suas inevitáveis frentes de desmatamento.
Florestas são sistemas dinâmicos, o que significa que sua composição se altera ao longo do tempo em resposta a perturbações como alterações climáticas e nas interações ecológicas. Há todo um conjunto de espécies adaptadas a ocupar espaços deixados vagos pela queda de árvores, deslizamentos de terra, inundações, erosão das margens dos rios etc.
São estas espécies, muitas com ampla distribuição e definitivamente não-ameaçadas, que irão colonizar as áreas agrícolas abandonadas, constituindo formações bastante diferentes da floresta original. Ou mesmo de algumas áreas de perturbação natural, já que o uso do fogo destrói o banco de sementes do solo e espécies de árvores e arbustos cultivados podem continuar a crescer nestes locais, substituindo as espécies nativas.
Estes novos habitats são importantes a ponto da atividade humana necessitar ser mantida em áreas protegidas? A resposta é não. Olhando apenas o território de uma unidade de conservação, as espécies típicas das capoeiras e áreas perturbadas continuarão ocorrendo nas áreas de perturbação natural. O resultado, por exemplo, é que ao invés de ter centenas de quilômetros quadrados de embaubais, estes estarão restritos a faixas estreitas em algumas margens de rios ou clareiras.
Olhando para além de qualquer unidade de conservação, há o fato óbvio de que boa parte da vegetação existente fora da mesma é formada por aquelas espécies e suas associações que representam o “aumento” da biodiversidade de nossa área protegida.
Ou seja, manter as atividades das “populações tradicionais” no interior de uma unidade de conservação “gera e mantém” no seu interior a mesma biodiversidade que existe e se mantém em áreas alteradas que não são protegidas. Não vejo porque dedicar parte de uma área protegida para aquilo que existe alegremente nas juquiras do outro lado da cerca ou, pior, destruir áreas que podem conter espécies com distribuição restrita para substituí-las por habitats pobres e repetitivos (os que fabricamos) e que já ocupam a maior parte do planeta.
Adaptando o ambiente
Humanos não se adaptam ao ambiente, fazemos o ambiente se adaptar a nós. Isso resulta na troca de habitats mais maduros, que tendem a acumular maior riqueza de espécies e biomassa, por habitats mais jovens e pobres. Pobres e monótonos, pois enquanto florestas maduras tendem a variar bastante em composição em uma escala espacial pequena, capoeiras tendem a ser parecidas entre si. Como as tediosas capoeiras de embaúbas e manacás encontradas em toda a Mata Atlântica.
Os anus, polícias-inglesas, tizius, bem-te-vis e rolinhas que colonizam as pastagens que estão sendo abertas na Reserva Extrativista Chico Mendes (AC) representam acréscimos à biodiversidade local, compensando em número de espécies os mutuns e cujubins extintos pelas atividades dos seringueiros-boiadeiros locais. A biodiversidade ornitológica aumentou (duas espécies foram perdidas, cinco surgiram).
Mas isso é trocar quadros de Van Gogh e Leonardo por latas de Coca-Cola e mostra a falha de usar apenas o número de espécies como medida simplificada da biodiversidade. Manter agricultura e outras atividades, por quem quer que seja (a ecologia não é racista) é que resulta em perda de biodiversidade, e não o contrário.
Alguns podem argumentar com estudos que mostram que a maior parte das espécies de algumas florestas é usada por humanos e foi plantada ali, que as tais florestas são artefatos humanos que aumentaram a diversidade local etc. Se sua floresta cresceu sobre o que até a poucos séculos era uma cidade maia ou uma mega aldeia pré-colonização européia é de se esperar que seja formada pelo que os antigos habitantes plantaram, mantiveram ou não conseguiram eliminar. É óbvio que espécies beneficiadas por humanos irão dominar.
O que não se fala é das espécies intolerantes às atividades humanas que desapareceram sem deixar vestígios. E do fato óbvio que estas florestas antropogênicas só existem porque as populações humanas desapareceram. Elas não são exemplos de diversidade gerada por populações tradicionais, mas sim de como a natureza agradece quando saímos de cena e tenta retomar a vida.
Ambientes moldados ao homem
Um exemplo mostra como viver em um ambiente cronicamente afetado por atividades humanas leva a idéias erradas. As florestas européias são em sua vasta maioria bastante jovens, tendo regenerado ou sido plantadas a partir do século XIX. Além disso, são tremendamente “manejadas”, ou seja, árvores não morrem de velhice e não se permite o acúmulo de “madeira morta”. Para completar, grandes mamíferos como bisões, auroques, tarpans, ursos, lobos e outros foram extintos na maior parte do continente. Apenas na Polônia e Belarus (Bialowieza) existem florestas extensas com árvores de mais de 500 anos e existe quase todo o complemento faunístico. Desgraçadamente, estas estão sendo destruídas pelo “manejo sustentado” de madeira.
As comunidades de aves das florestas européias sempre foram caracterizadas como tendo baixa riqueza de espécies, altas densidades e alta produtividade com base em estudos feitos nos remanescentes jovens e manejados que cobrem o continente. Isso até trabalhos na floresta primeva de Bialowieza mostrarem que comunidades de florestas maduras são muito diferentes, com riqueza de espécies muito superior, baixas abundâncias e presença de espécies que dependem de grandes árvores mortas e outros nichos inexistentes em florestas com poucos séculos.
Uma parcela muito importante das espécies de florestas tropicais também necessita de habitats maduros, mais estruturados, para se estabelecer. Por exemplo, veja a riqueza e densidade de bromélias e orquídeas em uma Mata Atlântica com 100 anos de sossego e outra sob manejo “tradicional”.
Pesquisa sobre Mata Atlântica mostra que esta ganha riqueza conforme o tempo passa, e que necessita de 100 a 300 anos para atingir parâmetros (como porcentagem de espécies dispersas por animais) indicadores de maturidade. Mas para atingir à proporção de espécies endêmicas, as mais interessantes para serem conservadas, são necessários de 1.000 a 4.000 anos sem humanos detonando o lugar. Na Amazônia, ocorre o mesmo padrão, florestas secundárias sendo mais pobres que as maduras, e sem muitas das espécies originais (o que tem rendido uma discussão interessante).
Pelo fim dos impactos
O argumento freqüente de que não existem florestas virgens e todas apresentam impactos humanos (o que é verdade, embora o nível de impacto varie enormemente) tem levado à conclusão absurda de que estes impactos devem continuar. Ao contrário, lugares onde habitats naturais puderam maturar sem humanos caçando, queimando, derrubando e extraindo mostram biodiversidade (em quantidade e qualidade) máxima.
Ao contrário do que os sócio-ambientalistas pregam, as evidências mostram que florestas e outros ecossistemas, de savanas a recifes de coral, precisam de paz para envelhecer e atingir seu potencial pleno de diversidade. Este processo de maturação provavelmente explica porque florestas tropicais são sumidouros de carbono. No caso da Mata Atlântica, um bioma na berlinda, é uma completa aberração que atividades como agricultura de corte e queima sejam permitidas sob as desculpas esfarrapadas de “aumentar a biodiversidade” ou de que “não causam impactos negativos”. Ainda mais em unidades de conservação.
A fauna é um componente da biodiversidade para os quais “populações tradicionais” tem sido um desastre. Um corpo enorme de estudos por grupos de pesquisa como os de Carlos Peres, na Amazônia, e Mauro Galetti, na Mata Atlântica, mostra como a caça “de subsistência” ou “tradicional” realizada por índios, seringueiros, caiçaras e companhia nada tem de sustentável e tem gerado florestas vazias. Populações tradicionais no interior de áreas protegidas significam uma catástrofe para a fauna, especialmente na Mata Atlântica, onde há muita gente para pouca floresta e ainda menos bichos.
Como outros já apontaram (veja sugestões de leitura abaixo) e com os dados ao seu lado, a idéia de que povos tradicionais (que não foram influenciados por alguma ONG interessada em melhorar sua imagem) deliberadamente conservam recursos naturais é mera parte da mitologia moderna do bom selvagem ecologicamente correto. Há exceções, é claro, mas que apenas confirmam a regra.
Alguns argumentam que manter “populações tradicionais” é necessário para manter “saberes acumulados sobre a biodiversidade”. Não vejo o que uma coisa tem a ver com a outra e uma análise crítica destes “saberes” iria bem. Afinal, quando a coisa aperta na aldeia, a Fundação Nacional de Saúde tem mais demanda do que os pajés, e o exame das “enciclopédias da floresta” da vida lembra um mix dos livros de Eurico Santos com o bom e velho “Plantas Úteis do Brasil”.
Muitos profissionais já ficaram decepcionados com o limitado conhecimento tradicional em áreas como a medicina e não me impressiona o fato da maioria das plantas medicinais usadas por caiçaras paulistas ou pataxós baianos serem as mesmas espécies introduzidas usadas por minha avó portuguesa (que era benzedeira). Na minha própria área, nunca encontrei um índio, seringueiro ou caboclo que não afirmasse que salamantas e jequitirinambóias são terrivelmente venenosas (o que é uma bobagem) ou não chamasse as 30 ou 40 espécies locais de little brown jobs (aquelas pequenas aves muito semelhantes) somente de “passarinho”, sem distinguir uma da outra. Mas admito que caçadores e passarinheiros locais comumente tenham informações interessantes sobre as espécies gastronômica ou comercialmente utilizadas.
| Sugestões de Leitura
O Poema Imperfeito, de Fernando Fernandez Biodiversidade: a hora decisiva, de Marc J. Dourojeanni e Maria Tereza Jorge Pádua Requiem for nature, de John Terborgh |
Seja o conhecimento tradicional útil ou não, desde a invenção da escrita há formas muito mais eficientes que a memória humana e a cultura oral para acumular conhecimento, de forma a sobreviver até mesmo à extinção da sociedade que o produziu. Conhecimento é mais bem conservado em livros e HTML (uma linguagem para se produzir páginas Web) do que em unidades de conservação.
Populações de índios, quilombolas, caiçaras e outros “tradicionais” têm se mostrado um desastre para a biodiversidade de áreas protegidas, como facilmente observado em locais como os parques nacionais Monte Pascoal (BA) e Araguaia (TO) e unidades estaduais como Serra do Mar, Intervales, Jacupiranga, Juréia e Ilha do Cardoso, essas todas em São Paulo. Acreditar que mantê-las vivendo “tradicionalmente” nestes espaços é compatível com manter a biodiversidade que deve ser protegida vai contra todas as evidências e me sinto chutando um cachorro morto ao escrever este texto. O problema é que, graças à infinita credulidade humana, o cachorro é um zumbi que ainda morde.
Vinte anos depois da morte de Chico Mendes, a primeira reserva extrativista, que leva seu nome, no Acre, não apenas mostra o fracasso do extrativismo como opção econômica (anunciado 20 anos atrás…), mas pastos crescentes e extinções locais mostram seu fracasso em conservar a biodiversidade que precisa ser conservada. Apesar de todo o dinheiro e esforço ali investidos.
Em seus 71 anos de existência, o Parque Nacional de Itatiaia (RJ/SP) não deve ter recebido metade do que foi investido na Resex Chico Mendes. Mas, apesar da crônica falta de recursos, da ação de caçadores e palmiteiros e do descaso fundiário, mostra áreas florestadas crescentes e espécies interessantes, que eram raras, se tornando mais comuns.
O contraste entre os resultados das diferentes abordagens de conservação deveria ser suficiente para mostrar o caminho a seguir.
Saiba mais:
Comendo a galinha dos ovos de ouro
Populações humanas em unidades de conservação
O incrível destino do parque Nonoai
A escolha de Chico Mendes
WikiParques, o site dedicado às áreas de preservação brasileiras
Leia também

Entrando no Clima #43 | É ano de COP no Brasil
Bem-vindos à terceira temporada de Entrando no Clima, com notícias e análises sobre as negociações climáticas internacionais. →

De olho na COP30, podcast Entrando no Clima estreia temporada 2025
Tudo sobre mudanças do clima e negociações climáticas você encontra aqui. Podcast será quinzenal nos meses que antecedem a COP30 e diário durante evento →

((o))eco lança página especial sobre COP 30
Página reúne reportagens, podcast, notícias e textos de análise relacionados à 30ª Cúpula do Clima da ONU. Experiência de 21 anos na cobertura do tema é diferencial →






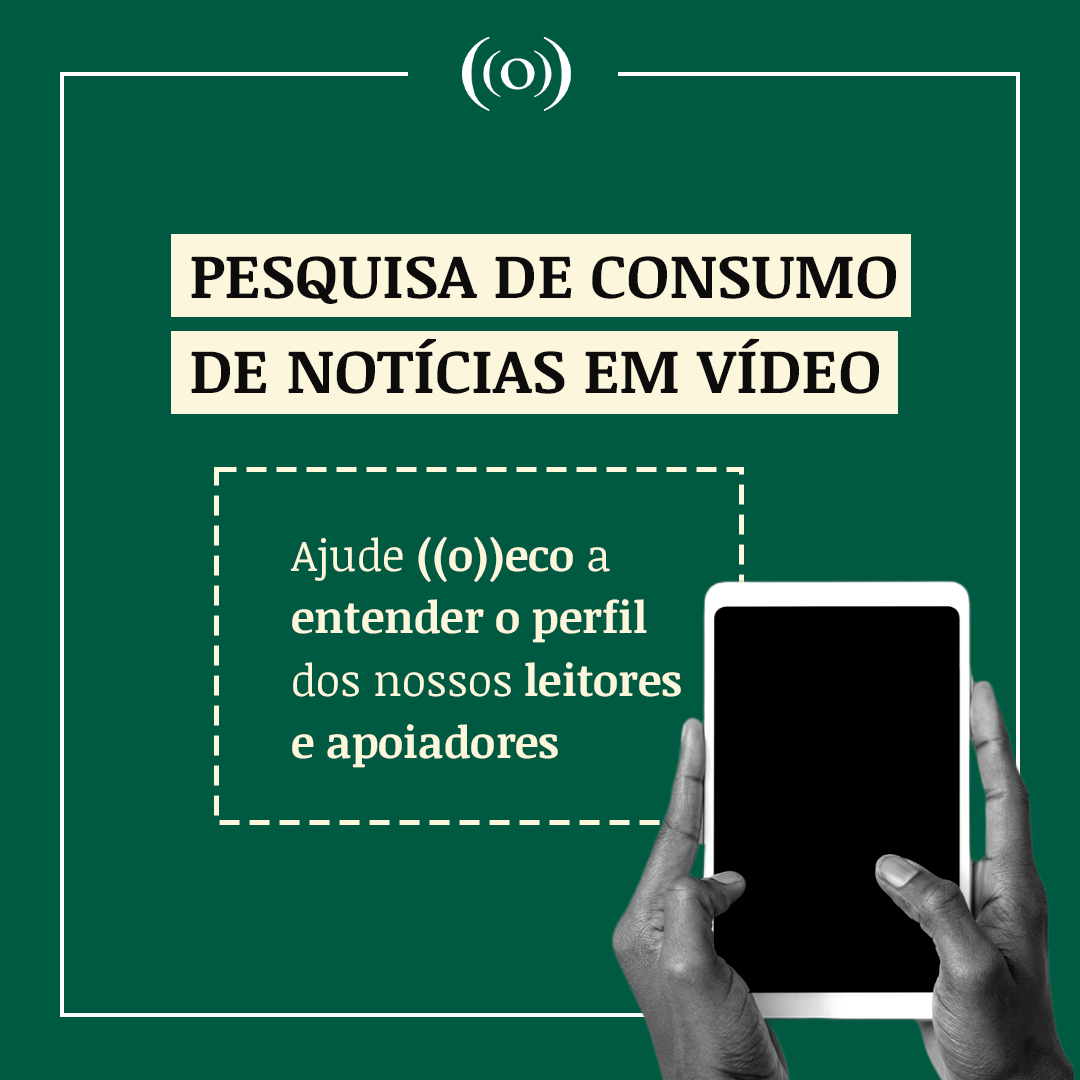
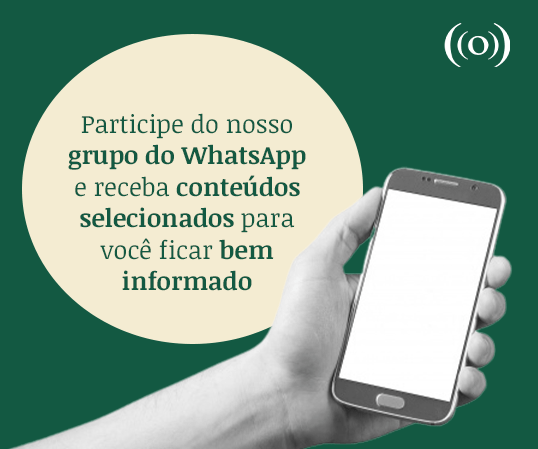
Que texto bosta.
Há evidências científicas de que foram os humanos que causaram a extinção da megafauna? Pois me parece que estudos mostraram um conjunto de fatores, inclusive climáticos. No mais, vejo a prevalência da soberba do conhecimento científico. Do qual tb faço parte. Se os índios e outros povos tradicionais causam impactos, ora, estão vivos, creio que o fazem de forma muito menos evasiva do que a nossa civilização, a dita evoluída. Creio que deveríamos baixar nossa bola e aprender, sim, aprender com eles, que a essência da existência humana não é somente o consumo, seja de carro do ano, seja de ciência. Por outro lado, essa aprendizagem tb está dificultada pela extinção, no caso desses próprios povos, causada por nós, a civilização técnico-científica.